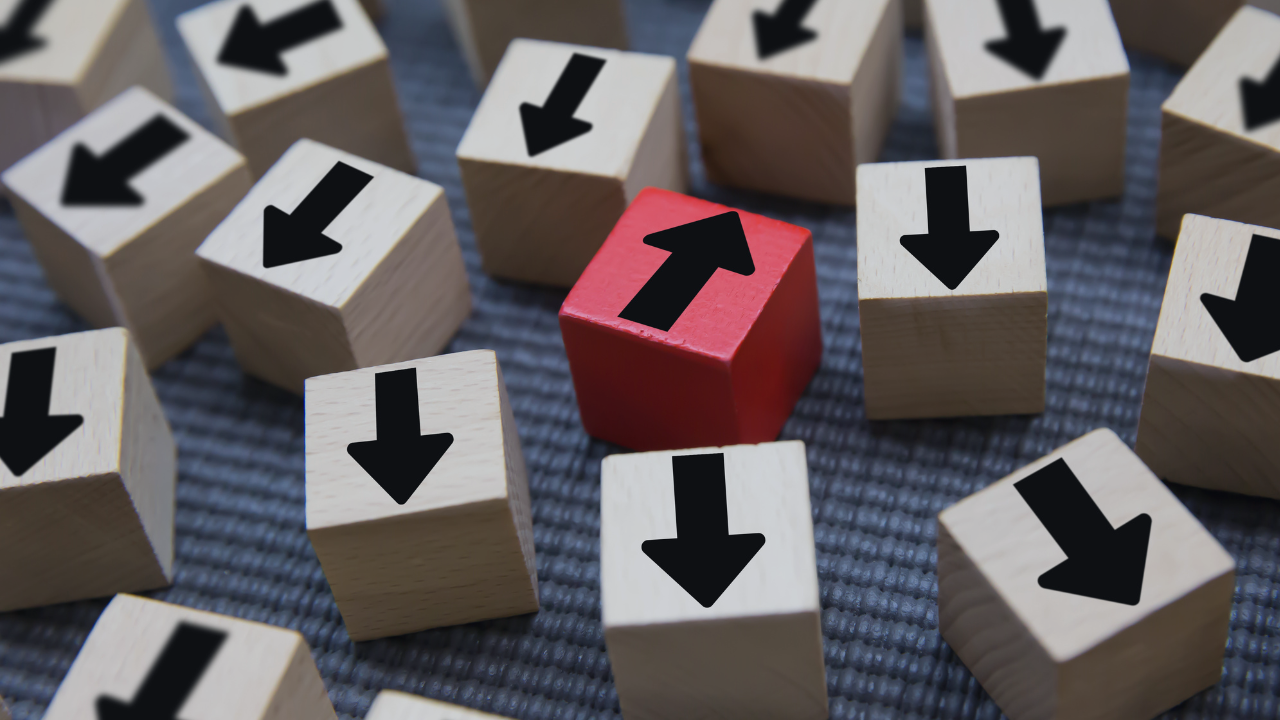Como Analisamos Risco
Caros investidores,
Há muito mais glamour em buscar entender como uma empresa pode ser extremamente bem-sucedida do que em investigar tudo o que pode dar errado com ela. Estimar o potencial de ganho também costuma ser menos trabalhoso. O plano de sucesso já é oferecido pronto pelos executivos das empresas listadas, em apresentações elegantes e eventos sofisticados. Enquanto isso, as fragilidades do negócio e os riscos da estratégia ficam em segundo plano.
Por menos entusiasmantes que sejam, os riscos de cada oportunidade devem ser o principal foco de um investidor prudente, pois não sofrer perdas relevantes de capital em investimentos arriscados é condição necessária para alcançar retornos elevados ao longo da vida, em múltiplos ciclos de investimento.
Controlar adequadamente o risco assumido é mais importante e mais difícil do que identificar grandes potenciais de retorno. Por isso, a maior parte do tempo que gastamos na elaboração de uma nova tese de investimentos é dedicada ao mapeamento de eventos negativos possíveis e a estimativas das perdas potenciais nesses cenários adversos. A seguir, compartilharemos alguns dos princípios que usamos para orientar nosso processo de análise de riscos.
Natureza do risco em investimentos em ações
A grande dificuldade de lidar com riscos em renda variável é quão árido e subjetivo o tema pode ser. Em teoria, seria possível calcular o risco de perda que um evento qualquer representa multiplicando a probabilidade de ocorrência do evento pelo impacto negativo que ele causaria no valor da empresa. Na prática, mapear todos os eventos negativos possíveis não é fácil, quase nunca há dados disponíveis para calcular suas probabilidades de ocorrência e o impacto negativo causado por eles é bastante incerto.
Para mapear os riscos adequadamente, é necessária uma mescla de conhecimento de casos passados e criatividade para imaginar o que pode acontecer no futuro, ainda que nunca tenha acontecido antes. Há múltiplos caminhos para o fracasso e é impossível ser exaustivo nesse mapeamento, mas o objetivo de identificar as ameaças mais relevantes é alcançável.
A probabilidade de materialização de cada evento e seus impactos negativo no valor da empresa quase sempre são estimadas com dados bastante incompletos, preenchidos com uma boa dose de julgamentos subjetivos. Geralmente, não é possível atingir um grau de precisão acima de classificações grosseiras como: probabilidade alta, média ou baixa.
Ainda há de se levar em conta a influência do tempo na probabilidade de ocorrência de certos eventos. Quanto mais longo o horizonte, maior a probabilidade de um risco latente se materializar. Por exemplo, a probabilidade de uma pessoa tropeçar em um dia qualquer é baixa, mas a probabilidade de tropeçar ao menos uma vez nos próximos dez anos é bastante alta.
Em suma, a avaliação de riscos é uma tarefa de escopo mal definido, complexa e feita sem os dados adequados. Por isso, é a parte mais “artística” da atividade de investimentos, e a mais difícil de traduzir em um método cartesiano. As considerações seguintes têm esse pano de fundo e não pretendem ser prescritivas.
Perpetuação da demanda
A primeira camada de risco a ser avaliada é a possibilidade de a demanda atendida pelo negócio diminuir ou deixar de existir, condenando todas as empresas que atuam no mesmo setor.
O motivo mais obvio pelo qual isso pode acontecer é a evolução tecnológica. Por exemplo, o óleo de baleia era um produto importante no século XIX, usado como combustível para lampiões, como lubrificante e impermeabilizante. A demanda por esse produto desapareceu completamente. Ele foi substituído pelo querosene, e depois pelas lâmpadas elétricas, na iluminação e por lubrificantes e impermeabilizantes sintéticos, mais baratos e mais eficientes.
Mudanças regulatórias também podem causar impacto súbito sobre as atividades alvo das novas regras. Telhas de amianto foram usadas por décadas na construção civil, até que se descobriu que essa substância causava problemas de saúde graves aos operários envolvidos em sua mineração. Vários países proibiram a comercialização de produtos fabricados com amianto e as empresas especializadas nesse ramo foram atingidas em cheio. No Brasil, foi isso que aconteceu com a Eternit.
Às vezes, o motivador da queda é a pura mudança das preferências do público. No século XIX, cartolas e suspensórios eram acessórios de vestuário masculino bastante comuns. Hoje, estão praticamente extintos. A posteriori, surgem explicações de o que pode ter causado certas mudanças na moda popular, mas é praticamente impossível prever esses movimentos antecipadamente.
O padrão geral de consumo também pode mudar por alterações no perfil demográfico. Por exemplo, é de se esperar que a demanda por produtos infantis diminua em regiões com baixa taxa de natalidade.
Esses exemplos não são exaustivos, mas ilustram bem o conceito central. Devemos refletir sobre quão robusta é a demanda atendida pelo negócio analisado. Se não houver mais clientes, operar com excelência e se manter à frente de seus competidores não terá muito valor.
Ameaça competitiva
A segunda camada de risco é a possibilidade de a empresa ser superada por seus competidores e perder espaço dentro do seu segmento econômico. Para endereçar essa preocupação, o passo crítico é avaliar se a empresa alvo possui vantagens competitivas. A metáfora que melhor explica esse conceito é o famoso “moat” do Warren Buffet, o fosso que rodeia um castelo para impedir que o exército inimigo se aproxime das muralhas, dificultando a invasão. Vantagens competitivas são fatores que impedem que os concorrentes conquistem seus clientes e, assim, invadam sua posição no mercado.
Em setores em que não há vantagens competitivas relevantes, os resultados das empresas envolvidas tendem a oscilar em torno de um patamar que remunera o capital empregado à taxa de retorno média do segmento econômico. Pode ser que uma empresa liderada por um grupo de executivos atipicamente talentosos se mantenha acima desse patamar por algum tempo, mas a constante agressão por diferentes competidores tende a, cedo ou tarde, prejudicar o negócio e tornar seus resultados novamente medianos.
Isso torna arriscados os investimentos em empresas com resultados atipicamente bons em setores sem vantagens competitivas, mesmo que não seja possível identificar as razões específicas pelas quais a empresa perderia espaço. Retornos altos sempre atraem competição e há múltiplas possibilidades de ataque. Um competidor pode iniciar uma guerra de preços em busca de uma maior fatia do mercado, um produto levemente superior pode surgir e atrai clientes, uma mudança de preços de insumos pode beneficiar temporariamente quem estava com determinado nível de estoque. Sem moat, poucos soldados audaciosos com escadas já podem ter sucesso em invadir as muralhas durante a noite e causar algum estrago.
Quando uma empresa tem vantagens competitivas claras, a projeção de seus resultados pode ser feita com maior assertividade e a chance de sucesso no investimento é substancialmente maior. A limitação de risco relacionada ao moat é tão relevante quanto o poder de precificação que permite à empresa sustentar rentabilidades acima do custo de capital.
Qualidade da governança e alocação de capital
Uma terceira camada de risco vem da possível má alocação dos lucros gerados pelo negócio. Os acionistas minoritários de uma empresa só podem ser remunerados de duas formas: através da distribuição dos lucros sob a forma de dividendos ou através da valorização das ações, que implicitamente requer a alocação dos lucros em algo que o mercado entenda que gera valor. Se o caixa gerado nas operações for mal alocado, lucros excelentes podem ser completamente desperdiçados e o retorno final do investimento pode ser ruim.
Há várias formas de má alocação de capital. A empresa pode investir em expansões exageradas que levam à capacidade ociosa por anos. Pode investir em novos segmentos de negócios sem sinergias claras com sua atividade principal. Podem ser feitas aquisições a preços altos demais. O caixa pode ser simplesmente retido e investido em renda fixa, com retorno abaixo do que os acionistas gostariam.
Além desses exemplos de uso “legítimos”, há as possibilidades de desvio de conduta. Por exemplo, os controladores podem atribuir para si próprios cargos de executivos ou conselheiros com remunerações muito acima das práticas de mercado, ou podem drenar recursos da empresa através de operações com partes relacionadas. Se essas práticas forem abusivas demais, podem ser enquadradas como crime, mas há uma zona cinzenta em que ainda é possível lesar os minoritários sem infringir a letra fria da lei.
A melhor forma de avaliar esse tipo de risco é observar o comportamento histórico dos acionistas controladores e dos executivos que estão a frente do negócio. O que se deve buscar são sócios competentes e com interesses alinhados aos seus.
Erro de precificação
Além dos riscos inerentes ao próprio negócio, existem também aqueles relacionados à decisão de investimento. O principal deles é superestimar o valor intrínseco da empresa e pagar caro demais por suas ações, devido a algum erro de julgamento cometido ao projetar os resultados do negócio. Comentaremos alguns exemplos de erros mais comuns.
Em um setor sujeito a ciclos de longa duração, os resultados durante a fase boa do ciclo podem chamar a atenção e as projeções podem ser feitas partindo de uma base de receita e rentabilidade acima da média, perpetuando indicadores atipicamente favoráveis como se fossem parte da condição normal do negócio. Para evitar esse equívoco, o caminho é avaliar o período mais longo possível de resultados históricos. Quando há indícios de ciclos setoriais, é importante entender sua dinâmica e julgar em qual fase do ciclo a empresa está atualmente. Os melhores momentos para investir em negócios assim ocorrem durante as fases ruins do ciclo, quando a tendência é de subestimar o valor real do negócio e as ações da empresa costumam ficar baratas no mercado.
Outra armadilha é basear a tese em uma narrativa complexa de como a empresa melhorará seus resultados no futuro. De fato, há situações em que empresas mudam de patamar e identificá-las antecipadamente gera oportunidades muito valiosas, mas teses assim carregam um risco bem maior do que investir em uma empresa simplesmente barata, sem que nada de diferente precise acontecer no futuro para o negócio valer mais do que o preço atual. Em teses que dependem de “gatilhos de valor”, quanto mais simples for a lógica envolvida nos eventos previstos, maior a probabilidade de a previsão estar correta. A complexidade pode criar certa elegância intelectual, mas quanto mais elementos precisam se alinhar para que a tese seja bem-sucedida, maior é o risco de algo diferente acontecer e frustrar as previsões.
Um erro mais sutil é acreditar que existem vantagens competitivas sustentáveis em um negócio que produziu retornos muito bons por alguns anos, mesmo quando não se consegue explicar com clareza como essas vantagens competitivas funcionam. Isso leva a subestimar o nível de risco real do negócio e projetar uma estabilidade de resultados que dificilmente será mantida por muitos anos. Quando a empresa tiver um período ruim, a tese de que existem vantagens sustentáveis se dissolve e as ações podem nunca alcançar o valor inicialmente imaginado.
Para lidar com esses riscos de erro de precificação, usamos a boa e velha margem de segurança. Mesmo com estimativas de valor razoavelmente conservadoras, só compramos ações que estejam substancialmente abaixo do preço que acreditamos ser justo para o negócio. Essa precaução nos protege de eventuais erros de julgamento e, se não houver equívocos, o retorno do investimento tende a ser ainda melhor do que a meta para a tese.
Encerramento
Há quem defenda que o risco de investimentos em empresas pode ser medido pela volatilidade dos preços de suas ações, mas esperamos que essa breve discussão tenha ilustrado bem o quão simplista é essa ideia. Da mesma forma, também é simplista acreditar que retornos mais altos só podem ser alcançados assumindo mais riscos, como se o mercado fosse capaz de medir, de forma precisa e consensual, o nível de risco de cada negócio.
Na prática, dois investidores podem ter percepções de risco muito diferentes sobre uma mesma ação, mesmo diante de informações iguais. Quem se aproximar mais da realidade terá uma vantagem clara na avaliação da oportunidade e, com isso, tende a gerar retornos melhores.
Ao longo dos anos, aperfeiçoamos uma série de detalhes em nossos processos internos para garantir maior disciplina e melhor qualidade nos julgamentos subjetivos envolvidos nas análises de oportunidades. Esse processo de melhorias é contínuo. Revisamos periodicamente nossas práticas, sempre buscando gerar retornos superiores com o menor nível de risco possível para o capital sob nossa gestão.