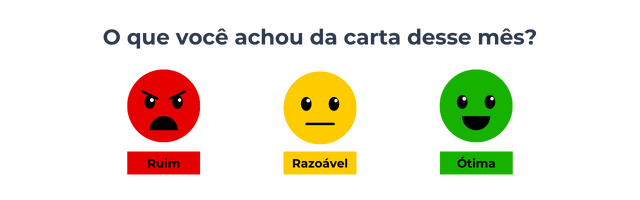Caros investidores,
No dia 20 de janeiro, Trump assumiu seu segundo mandato como presidente dos Estados Unidos e deu início a um choque de gestão que está agitando o mundo. A atenção é bem justificada. O produto interno bruto (PIB) americano representa ~25% do PIB global, os Estados Unidos são o maior importador do mundo (U$ 3 trilhões), o segundo maior exportador (U$ 2 trilhões) e 58% das reservas em moeda estrangeira são mantidas em dólares. Além da relevância econômica, é o líder político do Ocidente e a maior potência militar do planeta, responsável por ~38% dos gastos globais com defesa.
Trump assinou mais de 70 executive orders em seus primeiros 45 dias de mandato. A análise do impacto desse conjunto de ações é bastante complexa, por sua amplitude e porque diversas ordens podem se manter em vigor apenas temporariamente. O melhor que podemos fazer é buscar entender a linha filosófica por trás dessas ações, imaginar a quais cenários essa filosofia provavelmente irá nos levar e investigar quais riscos podem surgir para nossos investimentos.
Contexto histórico
A geopolítica global com que estamos acostumados foi desenhada após a Segunda Guerra Mundial, quando emergiu a disputa ideológica entre os países capitalistas e os países comunistas revolucionários. A União Soviética se tornou uma superpotência militar e ambicionava converter todo o mundo ao seu modelo político, militarmente ou apoiando revoluções comunistas em países vulneráveis. Para fazer frente a esse plano, o Ocidente criou um grande bloco de países aliados que cooperariam economicamente e militarmente para defender o “mundo livre”.
Na esfera econômica, os custos da guerra haviam forçado a maior parte dos países a abandonar a conversibilidade de suas moedas em ouro, o que desorganizou as finanças e o comércio internacional. A solução foi o Acordo de Bretton Woods, firmado em 1944, que criou um novo sistema monetário internacional em que o dólar americano seria a moeda de referência e manteria sua conversibilidade em ouro. As demais moedas teriam uma taxa de câmbio fixa em relação ao dólar, ajustável apenas em casos de desequilíbrio. O Acordo também criou o FMI e o Banco Mundial, com a missão de apoiar a reconstrução pós-guerra e o desenvolvimento dos países mais pobres.
Em 1945, foi criada a ONU (Organização das Nações Unidas), com o objetivo de promover a paz e a segurança internacional, fomentar a cooperação para o desenvolvimento econômico, social e humanitário e defender os direitos humanos e liberdades fundamentais. Originalmente, 51 países eram membros. Hoje, a ONU tem 193 membros e continua atuando como um grande fórum multilateral para discussão e coordenação de esforços que extrapolam fronteiras nacionais.
Na esfera militar, a principal preocupação era evitar o avanço da União Soviética sobre a Europa, fragilizada pelas guerras e dividida entre vários países bem menores do que a União Soviética. A estratégia de defesa foi a criação da OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte) em 1949, um tratado militar em que os países aliados colaborariam para proteger qualquer país do bloco que fosse atacado. Apesar das diferenças entre o poderio militar dos países membros, a OTAN adotou o princípio de que a soberania de cada país seria respeitada e as principais decisões seriam tomadas por consenso, de modo que nenhum país seria obrigado a agir contra a sua vontade.
Todos esses acordos foram negociados sob forte influência americana, pois a Europa estava endividada pelos custos da guerra, com a árdua missão de reconstruir sua infraestrutura e sem condições de investir pesadamente em defesa e desenvolvimento. Os Estados Unidos, muito menos afetados pela Segunda Guerra e já a maior economia mundial, assumiram a maior parte do ônus de proteger e desenvolver o Ocidente. Com sua marinha, passaram a garantir a segurança das rotas marítimas do mundo todo para permitir o crecimento do comércio internacional (antes da segunda guerra, navios cargueiros corriam o risco de serem atacados por piratas ou pela marinha de países rivais) e se envolveram em guerras muito distantes de seu território, como as guerras da Coréia e do Vietnã, para impedir o avanço do bloco comunista. A contrapartida por todas essas iniciativas, custada pelos Estados Unidos e benéfica a todos os países aliados, foi manter o dólar como moeda de reserva global, transformando diversos países em credores do governo americano.
Essa configuração se mantém até hoje. Os Estados Unidos ainda arcam com a maior parte do orçamento militar da OTAN, responsáveis por ~70% dos gastos de defesa ainda que representem ~50% do PIB total dos países membros, o dólar ainda segue como principal moeda de reservas internacionais e as relações internacionais entre os países do Ocidente ainda seguem a tradição de tomar decisões importantes de maneira multilateral.
De onde vem o “America first”
O princípio base das mudanças de política de Trump é o “America first”. Trump alega que os Estados Unidos estão em uma posição desnecessariamente desvantajosa em diversos acordos internacionais, subsidiando outros países nas relações comerciais, arcando com gastos de defesa desproporcionalmente altos e patrocinando diversos projetos ao redor do mundo sem contrapartida para os americanos.
Qualquer ato político de alto impacto tende a ter raízes mais profundas do que aparenta nas coletivas de imprensa. Há equipes enormes de políticos e técnicos discutindo o melhor curso de ação, sob seu ponto de vista, antes de que as conclusões desse processo interno cheguem ao público através do líder político que atua como porta voz do grupo. Sabendo disso, qual análise poderia resultar no princípio “America first”? Uma possibilidade é a interpretação de que a ordem geopolítica desenhada após a Segunda Guerra não é mais adequada à situação atual.
Durante a Guerra Fria, a grande questão era qual modelo econômico e social prevaleceria no mundo. Se os Estados Unidos deixassem de ajudar a Europa e os países subdesenvolvidos, eles estariam vulneráveis à influência da revolução comunista da União Soviética. Se o comunismo se espalhasse por todo o mundo, em algum momento o bloco comunista se tornaria militarmente superior a América e a dominaria. Sob essa ameaça, sustentar a defesa militar do Ocidente e oferecer auxílios aos países subdesenvolvidos não era um ato de altruísmo americano, era uma estratégia de autopreservação. Hoje, o cenário é bem diferente.
Após a queda da União Soviética, não há mais disputa em relação a qual modelo econômico é superior. A própria Rússia abriu sua economia e adotou dinâmicas de mercado semelhantes às do capitalismo Ocidental. Não existe mais o apelo popular que a promessa comunista de prosperidade a todos carregava. A principal diferença atual é no modelo político: enquanto o Ocidente se mantém predominantemente democrático, a Rússia e a China, a nova superpotência oriental, são governadas por regimes autoritários legados da revolução feita sob a promessa comunista.
O modelo de governo autoritário tem um potencial bem menor de se disseminar via apoio popular e a expansão militar hoje é improvável em territórios muito estratégicos devido à existência de arsenais nucleares, que criaram a dinâmica da Destruição Mútua Garantida: se uma potência nuclear atacar outra potência nuclear com bombas atômicas ou com agressividade exagerada, o ato desencadearia uma guerra nuclear que levaria à aniquilação de ambos os lados. A possibilidade desse desfecho catastrófico age como uma barreira para grandes conflitos entre as superpotências.
Hoje, o estilo de vida ocidental nos parece bem menos ameaçado pelas potências orientais. Essa interpretação e o fato de que os Estados Unidos têm hoje U$ 36 trilhões em dívida pública podem ter levado os Republicanos a questionarem se faz sentido manter as políticas de proteção militar e subsídios oferecidos a outros países desde a Guerra Fria.
Principais ações do governo Trump na economia
Os Estados Unidos hoje têm um problema fiscal. Em 2024, o déficit fiscal americano foi de US$ 1,8 trilhões, equivalente a 6,4% do PIB, e a dívida americana de US$ 36 trilhões equivale a 124% do PIB (em comparação, o Brasil teve déficit fiscal de 8,4% em 2024 e terminou o ano com uma dívida de 76% do PIB). A situação fiscal americana vem piorando velozmente desde a crise do subprime em 2008. Antes disso, ao final de 2007, a dívida americana era de 63% do PIB. Quase metade do patamar atual. Com isso, há discussões sobre a sustentabilidade do dólar como moeda de reserva global.
A resposta do governo Trump foi um plano de redução de gastos públicos, através do Department of Goverment Efficiency (DOGE – aos interessados, gravamos uma discussão sobre o tema, disponível neste link) e a priorização do desenvolvimento econômico americano, com projetos de desregulamentação e abandono de pautas ambientais. Um exemplo ilustrativo é a volta de incentivos à exploração de combustíveis fosseis para baratear a energia americana, divulgada por Trump sob o mantra “drill, baby, drill”.
No comercio internacional, os Estado Unidos divulgaram que aumentarão as taxas de importação de diversos países, sob dois princípios. O primeiro é o de reciprocidade, com as taxas de importação americanas sendo equiparadas às taxas que os outros países cobram na importação de produtos americanos. O segundo é o uso de taxas como instrumento de pressão em situações específicas, como no caso dos países que se recusaram a receber de volta imigrantes ilegais deportados dos Estados Unidos.
A questão das taxas é bastante delicada. Ao mesmo tempo que diversos países denunciam essa medida como protecionista, quase todos adotam medidas semelhantes. Nos casos em que o aumento de taxa é baseado em reciprocidade, entendemos que a argumentação do porque o desequilíbrio deveria continuar é difícil. Há três cenários possíveis para cada relação bilateral.
O primeiro é que o país afetado simplesmente aceite a nova taxa e adapte suas relações comerciais com os Estados Unidos à nova realidade. Nesse caso, a inflação americana aumentaria juntamente com a arrecadação de impostos do governo federal. Na proposta de Trump, esse aumento de arrecadação deveria ser usado para reduzir a dívida pública e, posteriormente, para diminuir a carga tributária americana. Em última instância, o resultado poderia ser o deslocamento da fonte de arrecadação de impostos para tarifas e um maior protecionismo da indústria americana.
O segundo é que o país afetado negocie com os Estados Unidos uma redução de suas próprias taxas de importação para evitar que suas exportações sejam afetadas pelo aumento das tarifas dos Estados Unidos. Isso tenderia a aumentar as exportações americanas para esse parceiro comercial e, assim, estimular a indústria doméstica. A arrecadação americana aumentaria devido ao crescimento do volume de exportações, mas o impacto tende a ser mais limitado.
O terceiro cenário é que os Estados Unidos e o país afetado entrem em uma guerra comercial e escalem as taxas até um patamar mais alto do que o praticado por ambos os países atualmente. Isso levaria a uma redução do fluxo bilateral de comércio exterior e tenderia a prejudicar ambos os países.
O resultado final da política de tarifas de Trump é impossível de prever porque depende da resposta de cada país. Acreditamos que os primeiros dois cenários sejam mais prováveis que o terceiro, pois guerras comerciais, por serem prejudiciais para ambos os lados, tendem a ser temporárias e terminar com a negociação de algum acordo mais benéfico.
De modo geral, o que temos enxergado nas ações recentes do governo Trump é um pragmatismo bem conhecido no mundo dos negócios. Há bastante ruído nos anúncios, particularmente ampliados pelo estilo de Trump, mas nos parece que a estratégia é vasculhar os principais acordos vigentes em busca de pontos em que seja possível melhorar algum termo. É provável que esses esforços rendam frutos, mesmo que abaixo do esperado, e que o impacto final para a economia americana seja positivo.
Mudança da estratégia geopolítica
Nos últimos 80 anos, desde os tratados desenhados no pós-guerra, os Estado Unidos vinham liderando o Ocidente sob a dinâmica de negociações multilaterais e colaboração com os países aliados. Agora, o governo Trump parece estar rompendo com essa tradição e perseguindo estratégias unilaterais que priorizam os interesses americanos em detrimento de uma visão de mundo compartilhada com os países aliados.
O tema central nessa esfera é a guerra entre a Ucrânia e Rússia. Desde seu início em 2022, a postura dos países membros da OTAN foi de apoio sólido à Ucrânia. Não chegaram a enviar combatentes próprios, para evitar que o conflito escalasse para o que poderia se tornar a terceira guerra mundial, mas financiaram a guerra e enviaram equipamentos militares que permitiram que a Ucrânia resista à Rússia até hoje. A principal razão para esse apoio é não permitir que exista um precedente de expansão territorial sobre a Europa via ação militar, o que poderia levar a Rússia a avançar sobre territórios adicionais no futuro.
Trump chega com uma interpretação diferente. Entende que os Estados Unidos estão financiando uma guerra muito distante de seu território, sem benefícios imediatos para os americanos, e que a melhor solução é negociar o fim da guerra, mesmo que o princípio de não permitir nenhuma expansão territorial por via militar não seja plenamente preservado. A Ucrânia, e os países europeus em geral, acusam os Estados Unidos de traírem o acordo de defesa mútua da OTAN, e o governo Trump retruca que os aliados estão abusando do apoio desproporcional dos Estados Unidos para prolongar uma guerra que não é interessante do ponto de vista econômico e humanitário.
Os Estados Unidos também estão se distanciando do bloco Europeu em outros temas: se retiraram da OMS (Organização Mundial de Saúde), se retiraram do Acordo de Paris (combate ao aquecimento global) e criticaram duramente as políticas de imigração adotadas pela Europa nas últimas décadas.
A rota que parece estar sendo traçada pelo governo Trump deve impulsionar o desenvolvimento da economia doméstica dos Estados Unidos e melhorar seu balanço fiscal, mas deve também abalar as relações políticas com a Europa, ao menos em um primeiro momento. É imprevisível como essas relações evoluirão. Se a Europa eleger predominantemente governos de direita em suas próximas eleições, pode ser que ocorra um realinhamento dos países Europeus com os Estados Unidos. Do contrário, pode ser que a Europa se torne um bloco menos alinhado por um prazo mais longo.
Há também um tom expansionista nas declarações de Trump. Alguns atos são meramente simbólicos, como renomear o Golfo do México para Golfo da América, mas as ideias de incorporar o Canadá, a Groenlândia e retomar o controle do Canal do Panamá, sinalizam intenções práticas de expandir, se não o território americano, ao menos a zona sob forte influência dos Estados Unidos.
A intenção pode parecer estranha nos tempos modernos, mas esse ímpeto expansionista é o comportamento padrão de impérios ao longo da história. O Império Macedônico, de Alexandre, o Grande, nasceu na Grécia e se expandiu até o noroeste da Índia (e só parou devido à morte prematura de Alexandre, por doença). O Império Romano nasceu na atual Itália e chegou a dominar quase toda a Europa e os demais territórios que margeiam o Mar Mediterrâneo. O Império Mongol, de Genghis Khan, nasceu na Mongólia e chegou a dominar quase toda a Ásia. Portugal e Espanha lançaram as grandes navegações para expandir seus territórios para terras além do oceano Atlântico. O Império Britânico, em seu auge, chegou a ter mais de 70 colônias. A China e a Rússia atuais também se comportam como impérios.
A geopolítica multilateral estabelecida após a segunda guerra e seguida pelos Estados Unidos até então é que constitui uma exceção na linha histórica mais longa. Não seria surpreendente se os Estados Unidos passassem a exercer seu poder e influência de maneira mais ostensiva, como fizeram os impérios do passado e ainda fazem os outros impérios atuais.
Mesmo que essa seja a rota adotada, ainda assim é difícil prever se os resultados serão bons ou ruins para o mundo. Já houve impérios tirânicos e impérios virtuosos. Há também o fato de que, no mundo democrático moderno, tudo pode mudar nas próximas eleições.
Como o Brasil pode ser afetado
Nosso país é um coadjuvante na geopolítica global. Não estamos envolvidos em conflitos militares. Não participamos de corridas tecnológicas. Somos apenas um grande país exportador de commodities, com um povo pacífico e sempre ocupado com seus próprios problemas internos. Certamente não somos uma ameaça para os Estados Unidos e não devemos ocupar a lista de prioridades estratégicas na agenda americana.
Das exportações brasileiras, 12,0% são feitas para os Estados Unidos, enquanto 28,5% vão para a China, nosso principal parceiro comercial. Das importações, 15,5% vêm dos Estados Unidos e 24,6% vêm da China. Além disso, o comércio exterior representa apenas 25-30% do PIB Brasileiro, comparado a uma média global de 50-60%. Ou seja, o impacto do eventual aumento das tarifas americanas não seria catastrófico para o Brasil. Sequer está claro se seremos alvo de alguma medida de protecionismo americano, pois as exportações brasileiras para os Estados Unidos são predominantemente de commodities minerais e agrícolas.
Caso as relações dos demais países com os Estados unidos se deteriorem, pode ser que o efeito para o Brasil seja positivo. Se, por exemplo, os Estados Unidos e a China entrarem em guerra comercial, uma parcela das exportações chinesas seria redirecionada dos americanos para outros parceiros comerciais, fazendo com que os preços oferecidos ao restante do mundo diminuam, enquanto a inflação americana aumentaria. A China também poderia decidir comprar produtos que hoje vem dos Estados Unidos de outros países. Por exemplo, a China compra ~US$ 15 bilhões de soja dos Estados Unidos anualmente. Parte dessa demanda poderia passar a ser atendida pelo Brasil.
Outro efeito poderia ser o enfraquecimento do dólar devido à redução das reservas internacionais em dólares mantidas por outros países. Hoje, cerca de 30% dos dólares emitidos estão em reservas internacionais, então essa eventual redução poderia causar impacto relevante nas taxas de câmbio. Alguns países já estão aumentando suas reservas em ouro, motivados por essas questões geopolíticas.
Há também um potencial impacto indireto das novas políticas americanas. Se a austeridade fiscal que está sendo implementada lá trouxer resultados positivos para os Estados Unidos, o caso pode se tornar um exemplo para outros países que enfrentam o mesmo problema de déficit fiscal e dívida crescente. Sob pena de ser mais uma esperança vã, quem sabe o governo brasileiro eleito em 2026 não implementa seu próprio plano de austeridade e reequilíbrio das contas públicas.
Riscos para os investimentos
O risco mais óbvio está nas empresas que dependem de exportações para os Estados Unidos, pois o eventual aumento de tarifas poderia afetar subitamente o volume exportado. Se as tarifas forem mantidas no longo prazo, haveria a possibilidade de deslocar a produção para o território americano e evitar os impostos de importação, mas provavelmente isso implicaria em aumentos de custos de produção e a demanda vindo dos Estados Unidos poderia ser reduzida de toda forma.
Caso o Brasil inicie uma guerra comercial com os Estados Unidos e aumente tarifas de importação como forma de retaliação, empresas dependentes de insumos americanos teriam seus custos aumentados, podendo perder volume de vendas devido ao repasse de preços ou ter que absorver parte desses custos extras, reduzindo suas margens. Guerras comerciais com outros países também poderiam prejudicar empresas brasileiras ao redirecionar produtos antes destinados aos Estados Unidos para o Brasil a preços baixos, aumentando a concorrência com a indústria nacional e pressionando suas margens.
Outro ponto de atenção é a possibilidade de desvalorização do dólar que comentamos acima, que poderia afetar investimentos denominados em dólar e, novamente, empresas que exportem para os Estados Unidos. Note que a dinâmica da queda do dólar nesse caso seria diferente do que costumamos observar no Brasil. Geralmente, o enfraquecimento ou fortalecimento do real frente às demais moedas é que causa a variação do dólar para nós. No caso do enfraquecimento do dólar frente às demais moedas, commodities com preços expressos em dólar, por exemplo, não necessariamente ficariam mais baratas para o Brasil. Seus preços poderiam subir em dólares ao mesmo tempo em que taxa USD/BRL cairia, neutralizando o efeito prático. Ou seja, poderíamos não ter benefícios relevantes com essa queda do dólar, além do barateamento das importações feitas diretamente dos Estados Unidos.
Esse risco cambial deve ser considerado com cautela, pois o fortalecimento da economia e do balanço fiscal dos Estados Unidos poderia atuar na direção contrária e valorizar o dólar. Na eventualidade de ocorrerem turbulências geopolíticas, é provável que seu efeito seja mais imediato do que o do fortalecimento econômico, então poderíamos ver uma desvalorização inicial seguida por uma recuperação.
Apesar dos comentários, nossa filosofia não é investir com base em projeções de cenários complexos. Preferimos evitar as incertezas atreladas a esse grau de complexidade e manter nosso portfólio em teses mais simples e assertivas. Hoje, nossas empresas investidas dependem majoritariamente de mercados domésticos e estão fora da linha de choque das possíveis guerras comerciais. Vemos um baixo risco dos nossos investimentos serem prejudicados pelas mudanças trazidas pelo governo Trump até este momento.
Confiram os comentários de Ivan Barboza, gestor do Ártica Long Term FIA, sobre a carta desse mês no YouTube ou no Spotify.